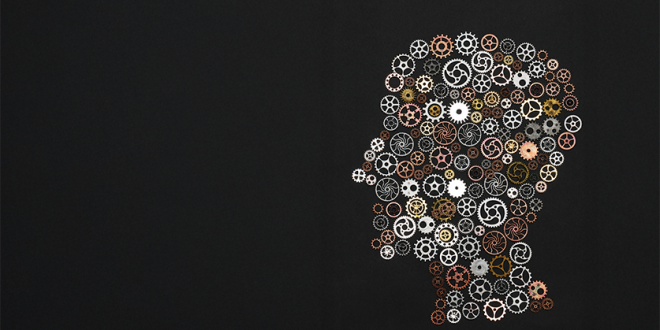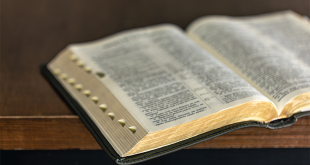A primeira tendência epistemológica geral é a tendência racionalista. De maneira geral, ela pode ser definida como “a atitude de quem confia nos procedimentos da razão para a determinação de crenças ou de técnicas em determinado campo”.[1] Pode ser definida também como “o ponto de vista epistemológico que enxerga no pensamento, na razão, a principal fonte do conhecimento humano”;[2] ou, ainda, como “a ideia de que o conhecimento humano pressupõe certos princípios que são conhecidos independentemente da experiência sensorial, e pelos quais o conhecimento da nossa experiência sensorial é governado”.[3]
Cada uma dessas definições tem nuances diferentes, mas todas elas convergem para a ideia de que o racionalismo vê a razão como fundamento do conhecimento. Em sua forma mais radical, ele reduz o conhecimento ao pensamento racional, enfatizando a sua independência em relação à experiência.
Entre os pensadores de tendência racionalista estão Platão, Plotino, Descartes, Spinoza e Leibniz.
Características do racionalismo
O grande impulso da tendência racionalista é a busca pela segurança do conhecimento. De certa forma, todas as características dessa tendência que serão apresentadas a seguir estão relacionadas a essa busca.
A primeira delas é a rejeição ou, pelo menos, a desvalorização da experiência sensorial. Como René Descartes propôs nas Meditações Metafísicas, o racionalista geralmente cultiva suspeitas em relação aos sentidos e deposita a sua confiança na razão. Para ele, o pensamento é “a verdadeira fonte e fundamento do conhecimento humano”.[4]
A segunda característica do racionalismo é a valorização do universal em detrimento do particular. O que chamamos de universal é “a forma, a ideia ou a essência que pode ser partilhada por várias coisas”[5] particulares. Uma bela flor é um particular relacionado ao universal “beleza”; assim como Daniel é um particular relacionado ao universal “homem (ser humano)”. O racionalista sustenta que overdadeiro conhecimento é o conhecimento dos universais, e não dos particulares. A razão para isso e a maneira como o racionalista enxerga o conhecimento são ilustradas pelo exemplo a seguir:
Temos experiência de muitos objetos circulares, nenhum dos quais, porém, é perfeitamente circular. Em todos eles há defeitos, tênues em alguns, mais óbvios em outros. Por conseguinte, nunca tivemos experiência de um círculo perfeito. Contudo, de algum modo, misteriosamente, sabemos o que é um círculo perfeito. Podemos submeter círculos à prova para ver quão próximos ou quão longe estão da perfeição, porque de algum modo nós temos em nossa mente um critério ou capacidade de avaliar a circularidade. […] O critério para avaliar a circularidade não pode ser problemático, mutável e aprendido falivelmente, como acontece com os círculos de nossa experiência. O nosso conhecimento desse critério deve, portanto, vir de outra fonte que não a experiência sensorial.[6]
Essa ênfase nos universais leva muitos racionalistas a adotarem o apriorismo, que é a ideia de que o conhecimento dos universais é independente da experiência sensível. Outros dão um passo além e adotam o inatismo, que é a ideia de que o conhecimento dos universais está presente na mente humana desde o nascimento.
Relacionada a essa característica, está a terceira, que é a preferência pelo raciocínio dedutivo ao indutivo. A indução é o tipo de raciocínio que parte de observações particulares para, a partir delas, formular uma verdade universal (por exemplo: o sol nasceu todos os dias até hoje; logo, o sol sempre nascerá). Já a dedução é o tipo de raciocínio que parte de uma proposição universal e a aplica a casos particulares (por exemplo: toda obra de arte pressupõe um criador; logo, se o universo é uma obra de arte, ele tem um criador). Para o racionalista, apenas o raciocínio dedutivo pode levar ao verdadeiro conhecimento, por partir de premissas inquestionáveis e chegar a conclusões necessárias.
Por implicação, o racionalismo assume a coerência (a lógica interna entre as proposições) como critério de verdade.Essa concepção, geralmente chamada de coerentismo, é a ideia de que “a justificação de uma crença é dada pela maneira como ela ‘coere’ com outras crenças na estrutura noética[7] de alguém. Uma melhor maneira de afirmar isso é dizer que uma crença é justificada para uma pessoa na possibilidade de que a crença seja membro de um conjunto coerente de crenças para tal pessoa”.[8] Essa é a quarta característica do racionalismo.
A quinta é que ele objetiva um corpo todo abrangente de certezas. Como diz John Frame: “a meta do racionalista é estabelecer um corpo de conhecimento totalmente livre das incertezas da experiência sensorial e da subjetividade”.[9] Essa característica pode ser percebida em filósofos como G. W. Leibniz (1646–1716), que tentou criar uma lógica universal capaz de explicar todas as verdades da existência, ou Baruch Spinoza (1632–1677), que construiu sua filosofia usando o método geométrico, estabelecendo cada conceito de forma dedutiva, como em um sistema matemático.
Este artigo é um trecho adaptado com permissão do livro Filosofia essencial para cristãos: o mínimo que você precisa saber sobre a realidade, o conhecimento e os valores , de Filipe Fontes, em breve pela Editora Fiel.
[1] Nicola Abbagnano, Dicionário de Filosofia, trad. Alfredo Bosi et al., 5ª ed. (São Paulo: Martins Fontes, 2007), p. 967.
[2] Johannes Hessen, Teoria do Conhecimento, trad. João Vergílio Gallerani Cuter (São Paulo: Martins Fontes, 2000), p. 48.
[3] John M. Frame, A Doutrina do Conhecimento de Deus, trad. Odayr Olivetti (São Paulo: Cultura Cristã, 2010), p. 125.
[4] Hessen, Teoria do Conhecimento, p. 49.
[5] Abbagnano, Dicionário de Filosofia, p. 1169.
[6] Frame, A Doutrina do Conhecimento de Deus, p. 127.
[7] “Estrutura noética” é a expressão usada pelo filósofo cristão Alvin Plantinga para se referir ao “conjunto de proposições que alguém crê juntamente com certas relações epistêmicas entre essa pessoa e aquelas proposições” (Dewey J. Hoitenga Jr., Faith and Reason from Plato to Plantinga: An Introduction to Reformed Epistemology [Albany: State University of New York Press, 1991], p. 178).
[8] J. P. Moreland e William Lane Craig, Filosofia e Cosmovisão Cristã, trad. Sueli Silva Saraiva et al., 2ª ed. (São Paulo: Vida Nova, 2021), p. 195.
[9] Frame, A Doutrina do Conhecimento de Deus, p. 127.