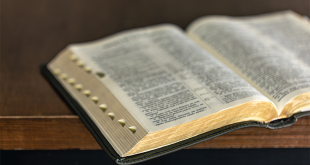Ao longo da história, a filosofia enfrentou diversos desafios teóricos e deu origem a inúmeras escolas filosóficas. No capítulo anterior, vimos que, dependendo da classificação adotada, só os problemas relacionados à teoria da realidade podem ser organizados em até nove questões. Imagine que cada uma delas tenha gerado, em média, três respostas distintas. Isso significaria cerca de 27 escolas filosóficas, apenas no campo da ontologia.
Alguns textos introdutórios se propõem a cobrir essa diversidade. Esse não é, porém, o objetivo deste, cujo propósito é oferecer uma primeira incursão filosófica. Para tanto, optamos por uma abordagem mais ampla. No caso dessa subdisciplina, a ontologia, nós nos limitaremos a apresentar uma revolução ocorrida nos últimos séculos, que afetou a maneira como a natureza da realidade passou a ser compreendida. Cremos que entender essa revolução ajudará o leitor a perceber como a filosofia molda o espírito de uma época e influencia a forma como pensamos e vivemos.
Realismo
Realismo é um termo recente. Segundo Nicola Abbagnano, seu primeiro uso teria sido feito por Silvestro Mazzolino de Prieria, no Compendium Dialecticae, de 1496, para designar a postura da escolástica, em oposição à postura dos nominalistas.[1] Atualmente, ele é empregado em diferentes contextos, tanto em debates ontológicos quanto epistemológicos, com significados variados.
Seguindo a sua origem histórica, nós o utilizamos aqui para descrever a visão a respeito da natureza da realidade que foi predominante desde o período clássico até a era moderna, quando passou a ser desafiada por novas correntes filosóficas. Definimos “realismo ontológico” como “a visão metafísica que afirma que aquilo que é real realmente existe independente de desejo e observação humanos”.[2] Em outras palavras, é a convicção de que a realidade e seu significado possuem existência anterior e independente da percepção e elaboração do sujeito que a conhece.
“Ao longo da história do pensamento ocidental até o século 17, assumia-se implicitamente que a pergunta ontológica era primária. Que algo existe era tomado como ponto de partida”.[3] As coisas começaram a mudar na modernidade, com a figura de René Descartes (1596–1650).
O início da revolução
No século 17, a humanidade vivia um período de incertezas. Algumas ideias, antes consideradas seguras, estavam abaladas, e o homem se via carente de novas ideias que funcionassem como ponto de partida e sustentação para o edifício do conhecimento. Descartes tornou-se um ícone da busca por essas ideias. Ele concluiu que, em vez de tentar reformar o edifício, seria mais prudente demoli-lo e reconstruí-lo desde os fundamentos, caminho que ele se propôs a trilhar nas famosas Meditações Metafísicas.
Munido de uma estratégia cognitiva que ficou conhecida como dúvida metódica ou ceticismo metodológico,Descartes decidiu suspeitar de tudo o que estava posto, até encontrar uma certeza indubitável que pudesse sustentar o edifício a ser reconstruído. Em suas próprias palavras:
Há já algum tempo me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera grande quantidade de falsas opiniões como verdadeiras e que o que depois fundei sobre princípios tão mal assegurados só podia ser muito duvidoso e incerto; de forma que me era preciso empreender seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões que até então aceitara em minha crença e começar tudo de novo desde os fundamentos, se quisesse estabelecer algo firme e constante nas ciências.[4]
Para ilustrar a jornada cartesiana, tomemos como exemplo a primeira de suas suspeitas: a suspeita quanto aos sentidos. Poucas coisas nos parecem tão intuitivamente confiáveis quanto nossas percepções sensoriais. Observe as coisas ao seu redor. Considere o seu tamanho, as suas formas, as suas cores. Se puder, tome algumas delas em suas mãos e sinta a sua textura e resistência. A experiência sensível nos oferece uma certeza quase inabalável sobre a existência e a natureza dos entes. Mas alguma vez você já foi enganado pelos sentidos? Já pensou que um objeto era de uma cor, quando, na verdade, era de outra? Já teve a experiência de ter a certeza de que estava sendo chamado por alguém, quando ninguém o chamava? Já considerou que tudo pode não passar de um sonho? Por mais estranho que isso possa parecer, não é verdade que um sonho nos parece realidade até acordarmos e descobrirmos que tudo não passava de um produto da nossa imaginação? Com argumentos semelhantes a esses, Descartes questiona a certeza trazida pelos sentidos e os rejeita como ponto de partida para a nossa relação com a realidade exterior.
Agora, imagine que tudo que está ao seu redor não passe de uma ilusão. Pense que todas as coisas que você vê, ouve e toca não passam de um produto da sua imaginação. Esse exercício conduz à suspensão do juízo sobre a existência de todas as coisas, exceto de uma: a de nossa própria existência como seres pensantes. Pois, à medida que duvidamos, a nossa existência pensante é afirmada. Veja, a seguir, as palavras do próprio Descartes:
(3) Suponho, então, que todas as coisas que vejo são falsas; persuado-me de que nunca houve nada de tudo quanto minha memória repleta de mentiras me representa; penso não ter nenhum sentido; creio que o corpo, a figura, a extensão, o movimento e o lugar são apenas de ficções de meu espírito. O que então poderá ser considerado verdadeiro? Talvez nada mais, a não ser que não há nada de certo no mundo.
(4) Mas como é que sei se não há alguma outra coisa diferente daquelas que acabo de julgar incertas, da qual não se possa ter a menor dúvida? Não há algum Deus, ou alguma outra potência, que me ponha no espírito esses pensamentos? Isso não é necessário; pois talvez eu seja capaz de produzi-los por mim mesmo. Eu então, pelo menos, não sou algo? Mas já neguei que tivesse algum sentido ou algum corpo. Hesito, não obstante, pois o que resulta disso? Sou de tal forma dependente do corpo e dos sentidos que não posso existir sem eles? Mas persuadi-me de que não havia absolutamente nada no mundo, de que não havia nenhum céu, nenhuma terra, nenhum espírito, nenhum corpo, então não me persuadi também de que eu não existia? Decerto não, eu existia sem dúvida, se me persuadi ou se somente pensei algo’. Mas há um não sei qual enganador muito potente e muito astuto, que emprega toda sua indústria em enganar-me sempre. Não há dúvida, então, de que eu sou, se ele me engana; e que me engane o quanto quiser, jamais poderá fazer com que eu não seja nada, enquanto eu pensar ser alguma coisa. De sorte que, após ter pensado bem nisso e ter cuidadosamente examinado todas as coisas, é preciso enfim concluir e ter por constante que esta proposição, Eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira todas as vezes que a pronuncio ou que a concebo em meu espírito.[5]
Cogito, ergo sum! Eu sou, eu existo! Essa afirmação, tratada muitas vezes como piada por aqueles que consideram a filosofia uma disciplina excêntrica, é, na verdade, o ponto de inflexão da filosofia moderna. Nela, Descartes sugere que o ser humano (aquele que conhece), e não a realidade externa (aquela que é conhecida), deve ser o ponto de partida do conhecimento. Pode parecer uma inversão sutil, mas suas implicações foram profundas. Embora Descartes tenha sempre permanecido um realista — uma evidência disso é que, depois de provar a existência de si mesmo, ele apresenta argumentos em prol da realidade de várias coisas das quais ele duvidara antes —, a afirmação da subjetividade como fundamento do conhecimento inaugurou um caminho que, nas gerações seguintes, levaria à crise da ontologia/metafísica e ao predomínio do antirrealismo, uma condição na qual a realidade passou a ser vista com suspeitas e o sujeito passou a ter a última palavra a respeito dela.
Como sugere Nancy Pearcey:
Esse filósofo (Descartes) é um exemplo trágico de como a pessoa pode ser cristã sincera e, mesmo assim, promover uma filosofia que com certeza não é cristã. Descartes ajudou a estabelecer uma forma de racionalismo que tratou a Razão não apenas como a capacidade humana de pensar de modo racional, mas como a fonte infalível e autônoma da verdade. A Razão foi vista como depósito de verdades independente de religião ou filosofia.[6]
Como vimos neste capítulo, durante séculos, a postura ontológica predominante era o realismo. A visão que se tinha sobre a realidade era a de que ela, com seu significado, existia de forma objetiva e independente do sujeito que a conhecia. O movimento iniciado por Descartes marcou uma ruptura fundamental na história do pensamento. Esse deslocamento teve consequências profundas: a realidade externa passou a depender da consciência do sujeito, e a ontologia perdeu sua primazia para a teoria do conhecimento.
No próximo capítulo, veremos que essa revolução filosófica, cujas bases foram lançadas por Descartes, foi anunciada e inaugurada por Immanuel Kant (1724–1804), frequentemente apontado como o pioneiro do que, mais tarde, foi chamado de pós-modernidade.
Este artigo é um trecho adaptado com permissão do livro Filosofia essencial para cristãos: o mínimo que você precisa saber sobre a realidade, o conhecimento e os valores , de Filipe Fontes, em breve pela Editora Fiel.
[1] Nicola Abbagnano, Dicionário de Filosofia, trad. Alfredo Bosi et al., 5ª ed. (São Paulo: Martins Fontes, 2007), p. 979.
[2] David K. Naugle, Filosofia: Um Guia para Estudantes, trad. Josaías Cardoso Ribeiro Júnior (Brasília: Monergismo, 2018), p.156.
[3] J. W. Sire, Dando Nome ao Elefante: Cosmovisão Como um Conceito, trad. Paulo Zacharias e Marcelo Herberts (Brasília: Monergismo, 2019), p. 77-78.
[4] René Descartes, Meditações Metafísicas, trad. Maria Ermantina Galvão (São Paulo: Martins Fontes, 2005), p. 29 (1.1).
[5] Ibid., p. 41-42 (2.3-4).
[6] Nancy Pearcey, Verdade Absoluta: Libertando o Cristianismo de Seu Cativeiro Cultural, trad. Luis Aron (Rio de Janeiro: CPAD, 2016), p. 43.